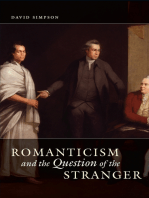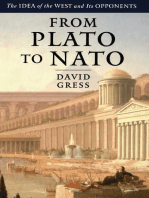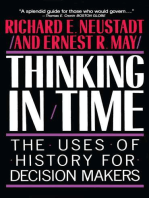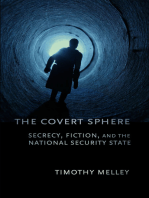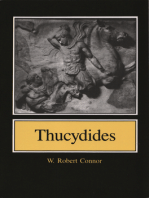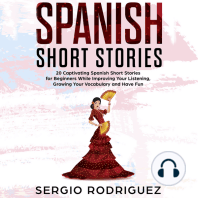Professional Documents
Culture Documents
Designação: A Arma Secreta, Porém Incrivelmente Poderosa, Da Mídia em Conflitos Internacionais
Uploaded by
Cristiano OldoniOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Designação: A Arma Secreta, Porém Incrivelmente Poderosa, Da Mídia em Conflitos Internacionais
Uploaded by
Cristiano OldoniCopyright:
Available Formats
DESIGNAÇÃO: A ARMA SECRETA, PORÉM INCRIVELMENTE
PODEROSA, DA MÍDIA EM CONFLITOS INTERNACIONAIS
Kanavillil RAJAGOPALAN
ABSTRACT: I argue in this paper that designation, the process by which we give a ‘local habitation and a
name’ to an object, be it real or imagined, and thereby bring it center stage and make it available for further
discursive practices, must be seen as the first and perhaps the most important step in the ideological
manipulation of the readers’ attitude in relation to the object named and talked about. I underscore therefore
the importance of looking at strategies of designation or naming, in understanding the role of news media in
the dissemination of ideologically slanted information.
KEYWORDS: media – politics – linguistic identity – designation – reference
It was 1992, and the old Soviet system had collapsed less than a year before.
Russians had the feeling that now they were living in a democracy everyone
should be allowed to do anything. Secret documents were being released at a
breath-taking rate; we could ring any senior official, no matter how high up,
and expect that he or she would speak to us on camera; the Russian
newspapers were revealing truths about their government and society which
had been secret for ever. None of it lasted, of course. As Russians came to know
and understand more about the West, they found out that there is little
freedom of information there either.
— John Simpson (2000:155)
My impression is the media aren’t very different from scholarship or from, say,
journals of intellectual opinion—there are some extra constraints—but it’s not
radically different. They interact, which is why people go up and back quite
easily among them.
— Noam Chomsky (1997)
Introdução
Desde a Guerra do Golfo, já há mais de uma década, o papel da mídia tornou-
se inconfundivelmente visível e inegável. Há quem diga que aquele famigerado confronto
entre as tropas de Saddam Hussein e o poderio militar dos EUA, auxiliado pelo poder de
fogo das demais potências da OTAN, foi a primeira guerra inteiramente travada sob os
holofotes da atenção mediática. A guerra contra o Iraque inaugurou a nova era de conflito
em grande escala como verdadeiro espetáculo a ser comercializado e apreciado pelo
público, e transmitido, muitas vezes, ao vivo—com direito a replays e intervalos
‘comerciais’. Como detentores dos rumos do conflito travado no deserto—e
poeticamente apelidado de operação ‘Tempestade na Areia’ —e das informações
(censuradas, é claro), os aliados controlaram a guerra, de ponta a ponta, decidindo
inclusive sobre as pausas. As guerras de hoje são verdadeiros shows de audiência em
escala planetária—dignas da “sociedade de espetáculo” (Debord 1967) em que vivemos.
Já na guerra do Afeganistão, a situação mudou bastante, desta vez em total
prejuízo da CNN e das demais emissoras que dominam o mundo da mídia, uma vez que
quem controlava o fluxo e a transmissão de informações era, não o lado vitorioso, mas
sim, o lado dos derrotados. E, como acontece com frequência com eventos de audiência
assegurada como a Fórmula-1, a Copa do Mundo etc., os taleban acharam por bem lotear
os direitos de transmissão entre os “amigos” e a rede árabe Al Jazeera ficou com o
monopólio da transmissão dos vídeos gravados pelo inimigo número um dos aliados,
Osama Bin Laden, vídeos estes que eram entregues por mãos invisíveis a uma
das sucursais da emissora de tempo em tempo. Foi também nessa guerra que a questão
da censura veio à tona. Embora se diga, com muita propriedade, que a primeira vítima de
qualquer guerra é a verdade, nunca havia ficado tão escancarada a forma como a mídia
manipula a notícia, mesmo naqueles momentos em que os responsáveis negam que
estejam fazendo qualquer tipo de maquiagem propositadamente.
Meu objetivo nesta apresentação é refletir sobre como a mídia imprime certas
interpretações pelo simples ato de designação de determinados acontecimentos, dos
responsáveis por tais acontecimentos, dos atos específicos praticados pelos lados em
situações de conflito etc. Posto que, de acordo com certas teorias semânticas de grande
prestígio, os nomes não passam de meras “etiquetas” identificadoras de objetos, é
preciso pensar além da semântica dos nomes próprios para encarar o fenômeno de
nomeação como um ato eminentemente político. Sustentarei a tese de que é no uso
político de nomes e de apelidos que consiste o primeiro passo que a mídia dá no sentido
de influenciar a opinião pública a favor ou contra personalidades e acontecimentos
noticiados.
1. Nomes: afinal o que há de tão curioso nessas palavras?
Ao longo dos tempos, as teorias de referência dedicaram-se à ingrata tarefa de
desvendar os mistérios dos nomes próprios e continuam a se empenhar nessa missão
hercúlea. (Rajagopalan, no prelo). Bertand Russell (1911), por exemplo, descartou como
imprecisos e, por conseguinte teoricamente desinteressantes, os nomes próprios na
forma como os gramáticos os conhecem, e adotou no seu lugar os
“nomes logicamente próprios”. O filósofo inglês, segundo confiam seus contemporâneos
e aqueles que chegaram a conhecê-lo pessoalmente, mudava de assunto toda vez que era
solicitado a fornecer um exemplo concreto do que seria um nome logicamente próprio
(Rajagopalan 2000). Tratava-se, na verdade, de um gesto muito acertado, posto que uma
das qualidades mais destacadas de um nome logicamente próprio é a de ser
simplesmente inominável. No momento em que se nomeia, o objeto deixa de ser tão
exclusivo ou único, pois o próprio ato de nomeação se encarrega de emprestar-lhe um
atributo (a saber, a própria descrição—definida, no caso—utilizada para nomeá-lo), que é
publicamente disponível e, em princípio, apto para ser aplicado a outros objetos. Ou seja,
o destino de nomes próprios comuns—aqueles descritos pelas gramáticas—é de um
definhamento progressivo, na medida em que acabam se transformando em substantivos
comuns. Donde o saudosismo velado em relação à chamada “linguagem adâmica”, isto é,
a linguagem em sua forma cristalina, quando substantivos comuns seriam todos nomes
próprios—posto que, Adão escolhia cada palavra para nomear um único bicho cada vez!
Não nos interessa aqui passar em revista as mais variadas propostas teóricas que
objetivaram, ao longo dos últimos cem anos ou mais (a preocupação em si remonta um
passado bem mais longínquo, talvez começando pelo próprio surgimento da filosofia
enquanto um campo do saber), entender o funcionamento do nome próprio. A
preocupação sempre se deu na seguinte forma. Se descrições são nada mais que
representações verbais de atributos e se atributos são da ordem de acidente (e não de
essência), é no nome próprio que devemos encontrar algo que pertence ao objeto de
forma inalienável. Ou seja, o nome próprio deve estar “grudado" ao objeto de maneira
inseparável. Este é, no fundo, o ímpeto, ou desejo, que move teóricos das
chamadas direct theories of reference (teorias que defendem referência direta ou não
mediada). O “externalismo semântico” de Putnam (1975), o conceito de “rigid
designators” (designadores rígidos) de Kripke (1972), ou o conceito de “Dhat” proposto
por Kaplan (1978) são todos formas diferentes de captar e concretizar teoricamente tal
desejo.
2. O discurso jornalístico e a escolha dos termos de designação
Sabemos que toda notícia, toda reportagem jornalística, começa com um ato de
designação, de nomeação. Alias, a própria gramática tradicional nos ensina que é preciso
primeiro identificar o sujeito da frase para então dizer algo a respeito ou,
equivalentemente, predicar alguma coisa sobre o sujeito já identificado. É preciso,
primeiro, nomear, para então dizer algo a respeito do objeto no mundo assim designado.
Apesar de tudo o que os filósofos e os lógicos dizem a esse respeito, as pessoas comuns
acreditam (e nisso, de certa forma, elas estão sendo influenciadas por anos a fio de ensino
de gramática normativa) que o nome próprio está livre de qualquer marca de
predicação—afinal, o ato de predicação incide sobre o nome próprio, identificado,
portanto anteriormente a qualquer predicação.
É, no entanto, no uso dos nomes próprios—ou, melhor dizendo, na fabricação de
novos termos de designação para se referir às personagens novas que surgem no cenário
e aos acontecimentos novos que capturam a atenção dos leitores, que o discurso
jornalístico imprime o seu ponto de vista. Logo depois do susto de 11 de setembro de
2001, o Presidente Bush decretou guerra total aos terroristas de todos os naipes, a
começar pelos seguidores do Taleban do Afeganistão. Afora o fato simples de que os
terroristas para uns são os mártires para outros, o uso do termo em si serviu para
identificar e isolar o inimigo “invisível” (como foi amplamente alardeado pela imprensa
internacional). Daí em diante, ficou fácil partir para todos os desdobramentos da lógica
binária, na qual aquele pronunciamento do Presidente dos EUA havia se baseado, ao
designar os fundamentalistas islâmicos como terroristas. Foi com uma simples
afirmação—na verdade uma ameaça—que a Casa Branca calou toda e qualquer voz de
protesto contra a ação de represália que ia desencadear a partir daquele instante: “Quem
não está conosco está contra nós”.
É inegável o importante papel desempenhado pelos termos cuidadosamente
escolhidos a fim de designar indivíduos, acontecimentos, lugares etc. na formação de
opinião pública a respeito daqueles entes. Osama Bin Laden foi taxado de “terrorist
mastermind” (a cabeça chave dos terroristas). A mesma figura enigmática, nascida na
Arábia Saudita, com fortes ligações com a família real daquele país—que, convém não
esquecer, serviu de importante aliado na guerra contra a ocupação soviética—
transformou-se, da noite para o dia, na imagem do próprio Satanás. Quem não se lembra
daquele cidadão norte-americano que, ao olhar assustado para a foto da destruição das
Torres Gêmeas de World Trade Center, chegou a identificar o rosto do Senhor das Trevas
em meio à fumaça negra que encobria os céus de Nova Iorque naquele malfadado 11 de
setembro de 2001? Como chega a exclamar Slavoj Zizek (2001: 6)
Sempre que encontramos um mal tão puro no Exterior, nós devemos reunir a
coragem para apoiar a lição hegeliana: nesse Exterior puro, nós devemos
reconhecer a versão destilada de nossa própria essência. Pois nos últimos cinco
séculos a prosperidade e paz (relativas) do Ocidente "civilizado" foram
compradas pela exportação de impiedosa violência e destruição ao Exterior
"bárbaro": a longa história desde a conquista da América ao massacre no
Congo. Por mais que soe cruel e indiferente, nós também deveríamos, agora
mais do que nunca, ter em mente que o efeito desses ataques é de fato muito
mais simbólico do que real.
E o filósofo esloveno acrescenta:
Os EUA apenas provaram o que acontece no resto do mundo diariamente, de
Sarajevo a Grozni, de Ruanda e do Congo a Serra Leoa. Se forem adicionados à
situação em Nova York atiradores de elite e estupros em massa, é possível ter
uma ideia do que era Sarajevo uma década atrás. Foi quando assistimos na tela
de TV ao colapso das duas torres do World Trade Center que se tornou possível
experimentar a falsidade dos "reality shows" da TV: mesmo se esses shows
forem "de verdade", as pessoas ainda atuam neles -- elas simplesmente atuam
como elas mesmas.
De qualquer forma, uma vez estampado o rótulo “terrorista”, o nome de Bin
Laden logo se tornou sinônimo do Mal. A partir daí transforma-se em dever cristão ajudar
na caça incansável ao “Gênio do Mal”, “o terrorista mais procurado do planeta”, e assim
por diante. Quando, no afã do sucesso na caça aos seus seguidores, o Presidente dos EUA
decreta guerra contra o “o Eixo do Mal” (termo escolhido para designar os países Irã,
Iraque, e Coréia do Norte), a eficácia absoluta da nomenclatura remontava à Segunda
Grande Guerra. Se o outro lado é o “Eixo do Mal”, por simples analogia (como também
pela lógica da exclusão do meio termo), quem se coloca contra os estados renegados é do
Bem. Diga-se de passagem, não foi à toa também que, tanto na Guerra do Golfo, como na
Guerra contra o Afeganistão, os países da OTAN preferiram se autodesignar de
“Aliados”. Quem tem a mídia de seu lado, escolhe não só os termos para designar as
forças de cada lado, mas também, ao escolher os termos, determina quem vai
desempenhar o papel do mocinho e quem vai desempenhar o do bandido. Na sociedade
de espetáculos, tudo depende do script—os capítulos diários da novela chamada a guerra
(Obs.: Não é à toa que se diz o “teatro da guerra” para designar o espaço físico onde
acontecem as batalhas) obedecem rigorosamente às previsões feitas por quem redige o
script inicial.
É verdade que nem sempre os nomes escolhidos funcionam da mesma forma
que os estrategistas da guerra esperam. Um exemplo notório disso é a escolha do
codinome “cruzada contra o terror” que o Presidente Bush chegou a empregar no início
da ação armada contra os seguidores fanáticos da Al Qaeda e do Taleban. O tropeço
custou muito caro para as pretensões da Casa Branca, que fez questão de fazer entender
que a iniciativa bélica não tinha como alvo nem o mundo árabe, nem os seguidores do
Islã, mas sim, um grupo de radicais e fanáticos que lutavam contra a própria civilização. O
erro crasso, desastroso do ponto de vista diplomático, foi o de esquecer que a própria
palavra cruzada possuía conotações—na verdade, se referia a um episódio da história
conturbada das relações entre o Ocidente e o Oriente, repleta de traições, e crueldades
imensuráveis. Os desmentidos insistentes e até mesmo a decisão de não mais usar o
termo maldito não foi capaz de consertar o estrago provocado. Até hoje há
quem duvide das verdadeiras intenções por trás da propalada afirmativa de que a guerra
contra o terror é uma guerra de civilização contra a barbárie. Chamar o bombardeio
indiscriminado das regiões densamente habitadas por populações cíveis de “operação
cirúrgica” ou a carnificina promovida em razão de tais bombardeios de “efeito colateral”
pouco contribui para aliviar a dor dos milhares de pessoas inocentes que foram vítimas
das brutalidades praticadas. Por incrível que pareça, o uso continuado de tais
“eufemismos” acabam minimizando a culpa daqueles que foram diretamente
responsáveis pelos atos envolvidos—ao menos aos olhos de quem sofre a “lavagem
cerebral” praticada pela imprensa.
3. O poder da designação
Ao caracterizar de terrorista-suicida alguém que sacrifica sua própria vida em prol
de uma causa (qualquer que seja), a imprensa não está apenas se referindo à pessoa
que pratica tal ato de proporções incomuns. Ela está emitindo uma opinião a respeito da
mesma. Há, pois um julgamento de valores, disfarçado de um ato de referência neutra. E,
é justamente por estar camuflado como um simples ato referencial que tais descrições
acabam exercendo tamanha influencia sobre o leitor do jornal. À medida em que o leitor
vai se acostumando ao rótulo, ele deixa de perceber que a descrição não passa de uma
opinião avaliativa. Como todas as opiniões avaliativas, esta também comporta um outro
lado. Assim, os mesmos indivíduos que são chamados de “homens-bomba” e “terroristas-
suicidas” pela imprensa ocidental são lembrados como “mártires” e “soldados da guerra
santa” pela imprensa árabe.
Convém frisar que o nosso intuito aqui não é perguntar qual dos dois lados tem a
razão. O objetivo das afirmações no parágrafo anterior foi o de demonstrar que tanto um
quanto outro é passível de contestação. O perigo está no fato de que o leitor ingênuo ou
desavisado tende a confundir descrição com termo referencial, opinião com fato
consumado. È nisso que reside o maior perigo.
RESUMO: Argumento, neste trabalho, que a designação, isto é, o processo pelo qual propiciamos a um
determinado objeto, quer real quer imaginário, um ‘endereço e um nome’, fazendo com que o objeto seja
colocado em destaque e tornado disponível para maiores discussões, deve ser entendida como o primeiro
passo em direção à manipulação ideológica da atitude do leitor em relação ao objeto nomeado e discutido.
Destaco, portanto, a importância de examinar as estratégias de designação ou nomeação, em tentar
compreender o papel da mídia na disseminação de informações ideologicamente dirigida.
PALAVRA- CHAVE: mídia – política – identidade linguística – designação – referência
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CHOMSKY, N. (1997). ‘What makes mainstream media mainstream: From a talk at Z Media Institute
in June 1997’. Z magazine. 1997. http://www.lol.shareworld.com/zmag/articles/cho moct97.htm
DEBORD. G. (1967). The Society of the Spectacle. New York: Back & Red.
KAPLAN, D. (1978). ‘Dthat’. In Cole, P. (Org.) Syntax and Semantics Vol. 9. Pragmatics. Nova Iorque:
Academic Press. Pp. 221-243.
KRIPKE, S. (1972). “Naming and necessity,” in Davidson, D. and Harman, G. (Orgs.). Semantics of
Natural Language, Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing Company.
PUTNAM, H. (1975). Mind, Language and Reality. Londres: Cambridge University Press.
RAJAGOPALAN, K. (2000). ‘O singular: a pedra no caminho dos teóricos da linguagem’. Cadernos de
Estudos Lingüísticos. n º 38. Pp. 79-85.
——— (no prelo). ‘Reference’. Encyclopedia of Linguistics. Chicago, EUA: Fitzroy-Dearborn Publishers.
RUSSELL, B. (1911). ‘Knowledge by acquaintance and knowledge by description.’ Proceedings of the
Aristotelian Society, Vol. 11. Pp. 142-156.
SIMPSON, J. (2000). A Mad World, My Masters. Londres: Macmillan.
ZIZEK, S. (2001). ‘Bem vindo ao deserto do real’. Folha de São Paulo. Mais. 23 de setembro de 2001.
pp. 4-7.
You might also like
- Democratic Hope: Pragmatism and the Politics of TruthFrom EverandDemocratic Hope: Pragmatism and the Politics of TruthRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- 1981 - Goodnight - Conspiracy RhetoricDocument19 pages1981 - Goodnight - Conspiracy RhetoricAtilla HallsbyNo ratings yet
- The Age of the Crisis of Man: Thought and Fiction in America, 1933–1973From EverandThe Age of the Crisis of Man: Thought and Fiction in America, 1933–1973No ratings yet
- A New World in Our Hearts - in Conversation With Michael Albert (2022)Document161 pagesA New World in Our Hearts - in Conversation With Michael Albert (2022)samrwNo ratings yet
- The Eclipse of Equality: Arguing America on <I>Meet the Press</I>From EverandThe Eclipse of Equality: Arguing America on <I>Meet the Press</I>No ratings yet
- Who Is Speaking The Power of Rhetoric An PDFDocument5 pagesWho Is Speaking The Power of Rhetoric An PDFHubert SelormeyNo ratings yet
- Private, the Public, and the Published: Reconciling Private Lives and Public RhetoricFrom EverandPrivate, the Public, and the Published: Reconciling Private Lives and Public RhetoricNo ratings yet
- Don't Blame Relativism: Can Postmodernists Condemn Terrorism?Document5 pagesDon't Blame Relativism: Can Postmodernists Condemn Terrorism?Mark EnfingerNo ratings yet
- Operation PaperclipDocument19 pagesOperation Paperclipmary engNo ratings yet
- From Plato to NATO: The Idea of the West and Its OpponentsFrom EverandFrom Plato to NATO: The Idea of the West and Its OpponentsRating: 4 out of 5 stars4/5 (7)
- RPH Chapter 1Document92 pagesRPH Chapter 1Lester GarciaNo ratings yet
- The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town, 1922-1945From EverandThe Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town, 1922-1945Rating: 4 out of 5 stars4/5 (44)
- Luisa Passerini - Memory & Totalitarianism-Routledge (2017)Document198 pagesLuisa Passerini - Memory & Totalitarianism-Routledge (2017)SergioNo ratings yet
- The Rhetoric of Terror: Reflections on 9/11 and the War on TerrorFrom EverandThe Rhetoric of Terror: Reflections on 9/11 and the War on TerrorNo ratings yet
- Derrida and The End of HistoryDocument81 pagesDerrida and The End of Historybookrunner100% (7)
- Past and Present: The Challenges of Modernity, from the Pre-Victorians to the PostmodernistsFrom EverandPast and Present: The Challenges of Modernity, from the Pre-Victorians to the PostmodernistsNo ratings yet
- Psychoanalysis, Speech Acts, and The Language of Free SpeechDocument22 pagesPsychoanalysis, Speech Acts, and The Language of Free SpeechEsteban JijónNo ratings yet
- Knowing Books: The Consciousness of Mediation in Eighteenth-Century BritainFrom EverandKnowing Books: The Consciousness of Mediation in Eighteenth-Century BritainNo ratings yet
- Armitage 978-1-77170-199-0Document62 pagesArmitage 978-1-77170-199-0Howard BurtonNo ratings yet
- Hegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal LegitimationDocument13 pagesHegemony and Hidden Transcripts: The Discursive Arts of Neoliberal LegitimationEmily SimmondsNo ratings yet
- Arousing Suspicion Against A Prejudice LDocument24 pagesArousing Suspicion Against A Prejudice LdawudhNo ratings yet
- The Movies as a World Force: American Silent Cinema and the Utopian ImaginationFrom EverandThe Movies as a World Force: American Silent Cinema and the Utopian ImaginationNo ratings yet
- Myths of Individualism in RagtimeDocument16 pagesMyths of Individualism in RagtimeARK234No ratings yet
- Social Darwinism: Science and Myth in Anglo-American Social ThoughtFrom EverandSocial Darwinism: Science and Myth in Anglo-American Social ThoughtRating: 3 out of 5 stars3/5 (4)
- Doubletalk - The Language of Communism by Harry HodgkinsonDocument174 pagesDoubletalk - The Language of Communism by Harry HodgkinsonReina Bakh100% (1)
- Architects of Power: Roosevelt, Eisenhower, and the American CenturyFrom EverandArchitects of Power: Roosevelt, Eisenhower, and the American CenturyNo ratings yet
- Chapter Eight: Television and Its Publics: Shifting Formations in The Public SphereDocument72 pagesChapter Eight: Television and Its Publics: Shifting Formations in The Public SpherePam WilsonNo ratings yet
- Daniel Bell - The Revolt Against Modernity - 1985Document22 pagesDaniel Bell - The Revolt Against Modernity - 1985RaspeLNo ratings yet
- Anglo-American Relations and the Transmission of Ideas: A Shared Political Tradition?From EverandAnglo-American Relations and the Transmission of Ideas: A Shared Political Tradition?Alan P. Dobson (1951-2022)No ratings yet
- Popular Culture and The Journalis: Versailzes: LasDocument7 pagesPopular Culture and The Journalis: Versailzes: LasLata DeshmukhNo ratings yet
- The University of Chicago PressDocument6 pagesThe University of Chicago PressMartin CothranNo ratings yet
- FDR's Good Neighbor Policy: Sixty Years of Generally Gentle ChaosFrom EverandFDR's Good Neighbor Policy: Sixty Years of Generally Gentle ChaosNo ratings yet
- Sovereignty: Outline A Conceptual History: Nicholas OnufDocument22 pagesSovereignty: Outline A Conceptual History: Nicholas OnufAlejoNo ratings yet
- Thinking In Time: The Uses Of History For Decision MakersFrom EverandThinking In Time: The Uses Of History For Decision MakersRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- Berube On D'SouzaDocument10 pagesBerube On D'SouzaliebmealoneNo ratings yet
- (Democracy and The News) Lisa Finnegan-No Questions Asked - News Coverage Since 9 - 11-Praeger (2006)Document217 pages(Democracy and The News) Lisa Finnegan-No Questions Asked - News Coverage Since 9 - 11-Praeger (2006)krajoeNo ratings yet
- The Covert Sphere: Secrecy, Fiction, and the National Security StateFrom EverandThe Covert Sphere: Secrecy, Fiction, and the National Security StateNo ratings yet
- Silverstein - Talking PoliticsDocument68 pagesSilverstein - Talking PoliticsadamzeroNo ratings yet
- Real Influencers: Fourteen Disappearing Acts that Left Fingerprints on HistoryFrom EverandReal Influencers: Fourteen Disappearing Acts that Left Fingerprints on HistoryNo ratings yet
- Last thoughts on the end of historyDocument20 pagesLast thoughts on the end of historyGelu Cristian SabauNo ratings yet
- 1981-Ciceros Teaching On Natural LawDocument8 pages1981-Ciceros Teaching On Natural LawNishi SinghNo ratings yet
- Carl Joaquim Friedrich - An Introduction To Political Theory - Twelves Lectures at Harvard-Harper & Row, Publishers (1967)Document193 pagesCarl Joaquim Friedrich - An Introduction To Political Theory - Twelves Lectures at Harvard-Harper & Row, Publishers (1967)Mladen MrdaljNo ratings yet
- December 13 Terror Over DemocracyDocument321 pagesDecember 13 Terror Over DemocracyAli HamzaNo ratings yet
- Booth (1991) - Security and Emancipation in Buzan and Hansen (2007) International SecurityDocument16 pagesBooth (1991) - Security and Emancipation in Buzan and Hansen (2007) International SecurityLeo VinciNo ratings yet
- The Problem of Unmasking in Ideology and Utopia: January 2013Document33 pagesThe Problem of Unmasking in Ideology and Utopia: January 2013Lika GoderdzishviliNo ratings yet
- Wesleyan UniversityDocument8 pagesWesleyan UniversityMarino Badurina100% (1)
- University of Minnesota PressDocument28 pagesUniversity of Minnesota PresssimossimoNo ratings yet
- DPM 11Document10 pagesDPM 11Sureshi BishtNo ratings yet
- Quotations PropagandaDocument126 pagesQuotations Propagandalairdwilcox100% (5)
- Noam Chomsky - Ira Katznelson - Laura Nader - Richard C. Lewontin - Richard Ohmann - The Cold War & The University - Toward An Intellectual History of The Postwar Years-The New Press (1996) PDFDocument298 pagesNoam Chomsky - Ira Katznelson - Laura Nader - Richard C. Lewontin - Richard Ohmann - The Cold War & The University - Toward An Intellectual History of The Postwar Years-The New Press (1996) PDFGorka Sebastian Villar VasquezNo ratings yet
- Samuel Weber - Mass Mediauras Form, Technics, Media - NodrmDocument318 pagesSamuel Weber - Mass Mediauras Form, Technics, Media - NodrmXUNo ratings yet
- Canovan 1981 PDFDocument178 pagesCanovan 1981 PDFBen100% (1)
- List of CPD Courses 2014Document4 pagesList of CPD Courses 2014mmohsinaliawanNo ratings yet
- The Ethics of Care and The Politics of EquityDocument37 pagesThe Ethics of Care and The Politics of EquityhammulukNo ratings yet
- CV - Inderpreet KaurDocument2 pagesCV - Inderpreet Kaurkunal sharmaNo ratings yet
- Freelance Digital Marketer in Calicut - 2024Document11 pagesFreelance Digital Marketer in Calicut - 2024muhammed.mohd2222No ratings yet
- Taqvi: Bin Syed Muhammad MuttaqiDocument4 pagesTaqvi: Bin Syed Muhammad Muttaqiمحمد جواد علىNo ratings yet
- Marpol 1 6 PPT Part 1Document110 pagesMarpol 1 6 PPT Part 1Aman GautamNo ratings yet
- Documents To Be ScrutinizedDocument1 pageDocuments To Be ScrutinizedsdfuoiuNo ratings yet
- Gcse History Coursework ExamplesDocument4 pagesGcse History Coursework Examplesf1vijokeheg3100% (2)
- Digital Citizen and NetiquetteDocument10 pagesDigital Citizen and NetiquetteKurt Lorenz CasasNo ratings yet
- ASEANDocument2 pagesASEANJay MenonNo ratings yet
- Sapexercisegbi FiDocument18 pagesSapexercisegbi FiWaqar Haider AshrafNo ratings yet
- Chap 04 Supply and Demand Elasticity and ApplicationsDocument25 pagesChap 04 Supply and Demand Elasticity and ApplicationsZain MuhammadNo ratings yet
- Company Deck - SKVDocument35 pagesCompany Deck - SKVGurpreet SinghNo ratings yet
- Maxwell-Johnson Funeral Homes CorporationDocument13 pagesMaxwell-Johnson Funeral Homes CorporationteriusjNo ratings yet
- URC 2021 Annual Stockholders' Meeting Agenda and Voting DetailsDocument211 pagesURC 2021 Annual Stockholders' Meeting Agenda and Voting DetailsRenier Palma CruzNo ratings yet
- Executive Summary: A. IntroductionDocument5 pagesExecutive Summary: A. IntroductionAlicia NhsNo ratings yet
- Alfred Hitchcock (1899 - 1980)Document10 pagesAlfred Hitchcock (1899 - 1980)stratovarioosNo ratings yet
- NewsRecord15 01 28Document12 pagesNewsRecord15 01 28Kristina HicksNo ratings yet
- Stockholders of F. Guanzon v. RDDocument1 pageStockholders of F. Guanzon v. RDJL A H-Dimaculangan0% (1)
- About Languages of EuropeDocument9 pagesAbout Languages of EuropeAlexandr VranceanNo ratings yet
- Opinion About The Drug WarDocument1 pageOpinion About The Drug WarAnonymous JusFNTNo ratings yet
- Cash Flow and Financial Statements of Vaibhav Laxmi Ma Galla BhandarDocument14 pagesCash Flow and Financial Statements of Vaibhav Laxmi Ma Galla BhandarRavi KarnaNo ratings yet
- Camelot RulebookDocument20 pagesCamelot RulebookAlex Vikingoviejo SchmidtNo ratings yet
- Marine Elevator Made in GermanyDocument3 pagesMarine Elevator Made in Germanyizhar_332918515No ratings yet
- Role of Judiciary in Protecting The Rights of PrisonersDocument18 pagesRole of Judiciary in Protecting The Rights of PrisonersArjun GandhiNo ratings yet
- Week 18 ImperialismDocument5 pagesWeek 18 Imperialismapi-301032464No ratings yet
- Make My Trip SRSDocument24 pagesMake My Trip SRSAbhijeet BhardwajNo ratings yet
- Cabrera, Jo Aliage G. BSA 2-1 Lab Exercise 1Document6 pagesCabrera, Jo Aliage G. BSA 2-1 Lab Exercise 1Jo AliageNo ratings yet
- Assessment of Diabetes Mellitus Prevalence and Associated Complications Among Patients at Jinja Regional Referral HospitalDocument10 pagesAssessment of Diabetes Mellitus Prevalence and Associated Complications Among Patients at Jinja Regional Referral HospitalKIU PUBLICATION AND EXTENSIONNo ratings yet
- Chandigarh Shep PDFDocument205 pagesChandigarh Shep PDFAkash ThakurNo ratings yet
- Spanish Short Stories: 20 Captivating Spanish Short Stories for Beginners While Improving Your Listening, Growing Your Vocabulary and Have FunFrom EverandSpanish Short Stories: 20 Captivating Spanish Short Stories for Beginners While Improving Your Listening, Growing Your Vocabulary and Have FunRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20)
- Conversational Phrases Spanish Audiobook: Level 1 - Absolute BeginnerFrom EverandConversational Phrases Spanish Audiobook: Level 1 - Absolute BeginnerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- Essential Spanish in 2 hours with Paul Noble: Spanish Made Easy with Your 1 million-best-selling Personal Language CoachFrom EverandEssential Spanish in 2 hours with Paul Noble: Spanish Made Easy with Your 1 million-best-selling Personal Language CoachRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (49)
- Learn Spanish with Paul Noble for Beginners – Complete Course: Spanish Made Easy with Your 1 million-best-selling Personal Language CoachFrom EverandLearn Spanish with Paul Noble for Beginners – Complete Course: Spanish Made Easy with Your 1 million-best-selling Personal Language CoachRating: 5 out of 5 stars5/5 (136)
- Meditación Guiada Para La Hora De Dormir: Hipnosis Para Sueño Profundo Con Música Para Aliviar El Estrés Diario, Relajarse, Reducir La Ansiedad, Y Lograr Mejores Noches De Descanso (Meditaciones Guiadas en Español - Guided Meditations in Spanish)From EverandMeditación Guiada Para La Hora De Dormir: Hipnosis Para Sueño Profundo Con Música Para Aliviar El Estrés Diario, Relajarse, Reducir La Ansiedad, Y Lograr Mejores Noches De Descanso (Meditaciones Guiadas en Español - Guided Meditations in Spanish)Rating: 5 out of 5 stars5/5 (44)
- Spanish Short Stories: Immerse Yourself in Language and Culture through Short and Easy-to-Understand TalesFrom EverandSpanish Short Stories: Immerse Yourself in Language and Culture through Short and Easy-to-Understand TalesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Automatic Fluency Latin American Spanish for Conversation: Level 1: 8 Hours of Intense Spanish Fluency InstructionFrom EverandAutomatic Fluency Latin American Spanish for Conversation: Level 1: 8 Hours of Intense Spanish Fluency InstructionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (15)
- Learn Spanish for beginners 6 in 1: Speak Spanish in an Easy Way with language lessons that You Can Listen to in Your Car. Vocabulary, Grammar, Conversations, and Spanish Short Stories up to Intermediate Level.From EverandLearn Spanish for beginners 6 in 1: Speak Spanish in an Easy Way with language lessons that You Can Listen to in Your Car. Vocabulary, Grammar, Conversations, and Spanish Short Stories up to Intermediate Level.Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Automatic Fluency Latin American Spanish for Conversation: Level 2: 4 Hours of Intense Spanish Fluency InstructionFrom EverandAutomatic Fluency Latin American Spanish for Conversation: Level 2: 4 Hours of Intense Spanish Fluency InstructionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (11)
- Learn Spanish While SleepingFrom EverandLearn Spanish While SleepingRating: 4 out of 5 stars4/5 (20)
- Learn Spanish with Paul Noble for Beginners – Part 1: Spanish Made Easy with Your 1 million-best-selling Personal Language CoachFrom EverandLearn Spanish with Paul Noble for Beginners – Part 1: Spanish Made Easy with Your 1 million-best-selling Personal Language CoachRating: 5 out of 5 stars5/5 (159)
- Spanish Short Stories for Beginners Book 3: Over 100 Dialogues and Daily Used Phrases to Learn Spanish in Your Car. Have Fun & Grow Your Vocabulary, with Crazy Effective Language Learning LessonsFrom EverandSpanish Short Stories for Beginners Book 3: Over 100 Dialogues and Daily Used Phrases to Learn Spanish in Your Car. Have Fun & Grow Your Vocabulary, with Crazy Effective Language Learning LessonsRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Spanish Audio Flashcard: Learn 1,000 Spanish Words – Without Memorization!From EverandSpanish Audio Flashcard: Learn 1,000 Spanish Words – Without Memorization!Rating: 3 out of 5 stars3/5 (5)
- Spanish Short Stories for Beginners Book 5From EverandSpanish Short Stories for Beginners Book 5Rating: 5 out of 5 stars5/5 (7)
- Spanish for Beginners: Learn the Basics of Spanish in 7 DaysFrom EverandSpanish for Beginners: Learn the Basics of Spanish in 7 DaysRating: 5 out of 5 stars5/5 (3)
- Automatic Fluency® Beginning Spanish Verbs Level I: 5 HOURS OF INTENSE SPANISH FLUENCY INSTRUCTIONFrom EverandAutomatic Fluency® Beginning Spanish Verbs Level I: 5 HOURS OF INTENSE SPANISH FLUENCY INSTRUCTIONRating: 5 out of 5 stars5/5 (33)
- Learn Spanish - Level 1: Introduction to Spanish: Volume 1: Lessons 1-25From EverandLearn Spanish - Level 1: Introduction to Spanish: Volume 1: Lessons 1-25Rating: 5 out of 5 stars5/5 (4)
- The Everything Spanish Verb Book: A Handy Reference For Mastering Verb ConjugationFrom EverandThe Everything Spanish Verb Book: A Handy Reference For Mastering Verb ConjugationRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)